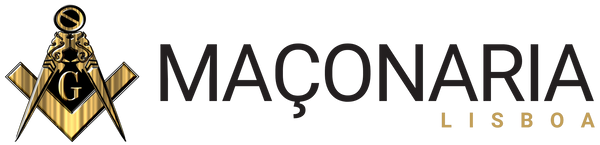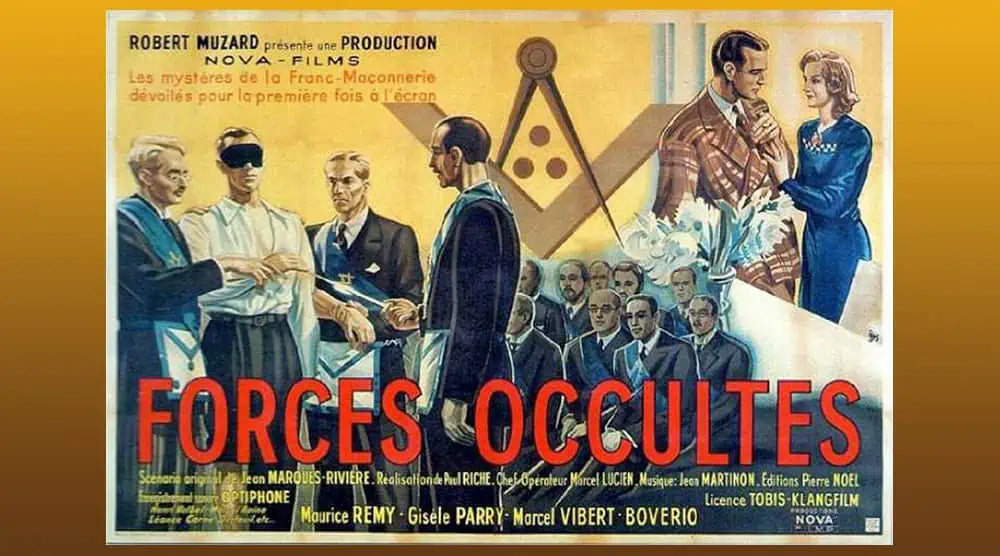
Uma análise das representações da Maçonaria no cinema
Share
Cinema e História
Longe de ser uma nova intersecção, a interface, ou interpenetração, entre cinema e história é tão antiga quanto a sétima arte. Em 1898, um pioneiro polaco da cinematografia, Boleslaw Matuzewski, escreveu um ensaio intitulado “ Une nouvelle source de l’histoire: création d’un depot de cinematographie historique”, no qual expôs a sua teoria de que o cinema, por ser fotografia animada, seria capaz de oferecer um testemunho verídico dos factos. Ao fazer isto, o cinema também controlaria o testemunho oral, possibilitando assim um banco de imagens dos factos importantes, ou nas palavras de Matuzewski “um depósito de cinematografia histórica”.
Sabemos que o projecto do autor polaco não se concretizou da forma que ele previa, porém, além da questão sobre o cinema/imagens e a apreensão do “real”, a chegada das imagens mudou, de forma indelével, a compreensão do processo histórico. Isto aconteceu não só pelo seu valor documental, como previam alguns autores, mas também pelo seu valor estético e outras variáveis (i.e. representação, recepção, narrativa, política) que dizem respeito ao campo dos estudos históricos.
Maçonaria
A fraternidade que reconhecemos como Maçonaria, seria melhor categorizada como uma prática, uma vez que não tem uma forma canónica [1]. Portanto, o campo de pesquisa dedicado a este tema tem caminhado para uma definição ampla, a de Maçonaria, dando espaço e enquadramento adequado a este fenómeno diverso. Resumindo, a Maçonaria é uma sociabilidade com estrutura fraterna que tem nos seus pilares os valores da liberdade, fraternidade e ajuda. Sendo uma ordem iniciática, apresenta os seus ensinamentos através de jogos de moralidade e classifica estas aprendizagens num sistema de graduação.
Embora a Maçonaria busque vincular as suas origens a eventos anteriores à sua formação actual no século XVII, o seu verdadeiro início é, temporalmente, explícito [2]. É em meados do século XVII que temos os primeiros registos do processo de aceitação de pessoas estranhas ao ofício de pedreiro [3] nas corporações. Estes homens, chamados de “aceites”, eram de diversos ofícios, ou mesmo nobres, mas na sua maioria eram comerciantes e lojistas, os recém-nascidos “tipo mediano” [4].
Hobsbawm, no seu artigo sobre os rituais do proletariado, destaca que o modelo que deu origem à Maçonaria tornar-se-ia um dos mais copiados entre os modos de sociabilidade da classe trabalhadora [5]. O declínio das guildas comerciais e a iniciação de membros estranhos às guildas marcam o início da Maçonaria moderna. A historiografia maçónica classifica a prática e o período vinculados às guildas como “maçonaria operativa” e a constituída por maçons “aceitos” apenas como “maçonaria especulativa”. Esta classificação refere-se à natureza do trabalho, o primeiro manual, trabalho material, e o segundo simbólico, intelectual.
O final do século XVIII e todo o século XIX são períodos cruciais para a construção da Maçonaria contemporânea. Vários movimentos exerceram forte influência sobre a Maçonaria e foram, de alguma forma, um produto do seu impacto, a filosofia Iluminista, tanto na sua vertente francesa quanto na Aufklärung alemã, a Revolução Francesa, a codificação do Espiritismo, o misticismo Rosa-Cruz e Cabalístico, além do renascimento ocultista do século XIX. Todos eles deixaram uma forte impressão, marcando a Maçonaria com as suas características marcantes: o sincretismo [6].
Embora o escrutínio dos primórdios da Maçonaria seja uma tarefa árdua, especialmente a sua transição do operativo ao especulativo, há um marco fundamental que é quase indiscutível: o estabelecimento da Grande Loja de Londres e Westminster, em 1717, ou 1721, de acordo com dúvidas lançadas por estudos recentes [7]. Desde o século XIX, a então Grande Loja Unida da Inglaterra é considerada a “loja mãe do mundo” [8], actuando como um árbitro para a regularidade maçónica.
Após o século XVII, a Maçonaria espalhou-se pelo mundo. Os seus modelos de ritual e sociabilidade foram largamente copiados por uma sucessão de sociedades amigas e fraternas, uniões e sindicatos. Construir uma “história geral” da Maçonaria requer uma sistematização de milhares de trabalhos produzidos por historiadores e amadores. A multiplicidade destas narrativas levou-nos ao conceito de Maçonaria, mas ao mesmo tempo não faz da Maçonaria um tema impossível, ou mesmo hermético.
Anti-Maçonaria
Há uma grande tendência hoje em dia para chamar anti-maçonaria a todo o artigo, opinião ou pergunta com algum tipo de oposição à Ordem. No entanto, deve-se diferenciar o que é crítica à Maçonaria como tal, seja quanto à sua estrutura, filosofia e/ou organização e o que é crítica oriunda de preconceitos ou distorções propagadas desde o século XVII, ou seja, desde o período de estruturação da Maçonaria moderna.
Vários são os exemplos e histórias sobre a anti-maçonaria; para uma breve e sistemática análise, promoverei uma síntese. Como a Maçonaria foi sistematizada na Inglaterra, a anti-maçonaria foi o seu subproduto inevitável. As nuances e motivações dos discursos contra a Maçonaria adquiriram vigor e sofreram mutações, o que possibilitou a sua permanência até hoje. Entre o discurso anti-maçónico é possível identificar três correntes principais que deram origem às demais. O autor maçónico João Ivo Girardi esquematizou de forma bastante didáctica:
Três temas sucessivos sustentaram a anti-maçonaria do século XIX:
- o tema anglófobo: segundo os seus defensores, a Maçonaria seria apenas um disfarce para os serviços de inteligência ingleses;
- o tema anti-semita: os maçons seriam apenas marionetes dos judeus. A alta finança judaica, principalmente os Rothschild, estaria escondida atrás da Maçonaria.
- o tema luciferiano: o verdadeiro significado da Maçonaria seria a actividade demoníaca oculta na Loja [9].
Assim, a anti-maçonaria tem sido um dos principais combustíveis para atiçar as chamas das “teorias da conspiração”. No entanto, o “segredo maçónico” difundido ajudou a alimentar o imaginário daqueles que nutriam uma relação de amor, ódio ou curiosidade com a Fraternidade. Assim, a Maçonaria tornou-se um elemento-chave no quebra-cabeça das teorias da conspiração que, dada a sua natureza, são todas profecias auto-realizáveis.
Cinema e Maçonaria
A Maçonaria tem sido um tema recorrente no cinema, explicitamente, como parte do contexto ou como pano de fundo. Por exemplo, no filme El Angel Exterminador (Buñuel, 1962); no meio de uma trama surrealista, que critica indelevelmente a burguesia, encontram-se várias subtis referências maçónicas; diferentemente, o filme From Hell (Hughes, 2001), usa a Maçonaria como peça chave da trama. Vale lembrar que uma lista sempre actualizada de filmes relacionados, a qualquer nível, com a Maçonaria, pode ser encontrada no website da Grande Loja da Columbia Britânica e Yukon.
Ainda nos primeiros anos do cinema como entretenimento, a Maçonaria foi tema de uma das aventuras de Bobby Bumps. Bobby Bumps foi o personagem principal de uma série de animações produzidas pela Bray Productions, entre 1915 e 1925. Tais animações foram lançadas pela Paramount Pictures e faziam parte do Paramount Package, um pacote de curtas-metragens e animações que foram exibidas nos cinemas antes dos filmes. Conforme definido por Kristian Moen “Focado num garoto indisciplinado, Bobby Bumps, os filmes normalmente apresentavam uma série de situações humorísticas que resultavam dos seus esquemas lúdicos e indisciplina geral” [10].
No episódio Bobby Bumps starts a lodge (Hurd, 1916), o personagem principal chama o seu vizinho para fazer parte da sua “loja maçónica”. Notavelmente, não há nenhuma loja maçónica, sendo que o objectivo de Bobby Bumps é apenas pregar uma partida no seu amigo, como se eles fizessem parte de um ritual de iniciação. Por ser tema de desenho animado, de entretenimento de massa, fica claro que a Maçonaria não era um tema obscuro para a sociedade americana na década de 1910.
Bobby Bump marca a estreia da Maçonaria no cinema e desde então, a Ordem tem sido um habituée da sétima arte. Conforme formulado por Michèle Lagny, os historiadores, diante de um arquivo cinematográfico, podem questionar-se sobre quais filmes a priorizar, pois serão considerados dois aspectos principais: o valor estético e o seu valor como testemunho [11]. No entanto, nos filmes abordados neste artigo temos ambos os aspectos, pois não apenas a análise da seu contexto de produção oferece elementos que atestam a sua força como testemunho, mas também os seus aspectos estéticos apresentam dados cruciais sobre o tema a ser focado neste artigo.
A característica que estes filmes têm em comum, além de tocarem na temática da “Maçonaria”, é que foram produzidos dentro de um estado de excepção [12] e de extrema polarização política. Assim, tentarei compreender como se deu a recepção, e a posterior produção, de uma determinada representação da Maçonaria nestes três contextos diferentes, embora com as suas semelhanças. Em primeiro lugar, como uma representação que visa transformar a fraternidade num pária disposto a destruir a sociedade, em segundo lugar, como um espaço para o desenvolvimento de desejos de independência, mas que podem ser perigosos, e em terceiro lugar, como mostrando a banalidade e o servilismo de uma Ordem que mantém o status quo, mesmo que seja engolida por ele.
É importante destacar que o termo “representação” está a ser utilizado de acordo com o entendimento de Moscovici e a sua visão advinda da psicologia social, na qual o autor reconhece as duas principais funções das representações, que são:
- Em primeiro lugar, convencionalizam os objectos, pessoas ou factos que encontram. Dão-lhe uma forma definitiva, localizam-na numa determinada categoria e, pouco a pouco, colocam-na como um modelo de determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas. Todos os novos elementos se juntam a este modelo e nele se sintetizam [13].
- Em segundo lugar, as representações são prescritivas, isto é, impõem-se a nós com uma força indescritível. Esta força é uma combinação de uma estrutura que está presente antes mesmo de começarmos a pensar e de uma tradição que decreta o que deve ser pensado [14].
Assim, tentarei entender de que forma ocorreram estas convenções sobre o que é a Maçonaria. Também, de que forma estas convenções se inscrevem na sociedade, sintetizando visões sobre a Ordem, e como estes filmes definiram formas de perceber este fenómeno social que é a Maçonaria, nas suas respectivas sociedades.
Les Forces Occultes (1943) – Anti-maçonaria como propaganda Nazi
O filme “Les Forces Occultes” é uma produção francesa do período conhecido como Vichy France (Regime de Vichy). Apesar disto, costuma-se creditar todas as acções políticas francesas desse período à ocupação nazista; embora esta tenha sido uma força motriz, é importante ressaltar que alguns segmentos dos colaboracionistas não foram mera consequência de ameaças. O Estado Francês (État Français), ainda que um governo fantoche dos nazis, deu lugar à ideologia vigente, nomeadamente a de valores religiosos sectários de mentalidade autoritária. Esta mistura foi traduzida no trinómio Trabalho, Família, Pátria (Travail, Famille, Patrie) e, importante para este artigo, também reacendeu a anti-maçonaria e o anti-semitismo, ou mesmo o “anti-cosmopolitismo” como sugerido por Jean-Robert Ragache, antigo Grão-Mestre do Grande Oriente de França [15].
A média-metragem, realizada por Jean Mammy, sob o pseudónimo de Paul Riche, é uma expressão genuína da estética nazi. Utilizando o mesmo estilo narrativo, o filme também mergulha nos mesmos efeitos de câmara [16] já vistos em clássicos do cinema nazista como “Der Triumph des Willens” (O Triunfo da Vontade, 1935), “Jude Suss” (1940) e “ Der Ewige Jude” (O Judeu Eterno, 1940).
A Maçonaria foi oficialmente banida do território Francês em 13 de Agosto de 1940, devido a uma lei que proibia o funcionamento de “sociedades secretas”, sem dúvida o objectivo de tal legislação era a Ordem e seus corpos mais importantes [17] em França, o Grande Oriente de França e a Grande Loja de França. Exemplo deste foco nas instâncias maiores é que somente no início de 1941, as obediências menores, mistas e femininas, foram atingidas pelos decretos que declaravam nulas as suas constituições. Imediatamente, os arquivos maçónicos caíram nas mãos dos nazis e colaboracionistas franceses; massivas investigações policiais foram feitas, listas com nomes de maçons franceses foram publicadas nos jornais e cerca de três mil pessoas perderam os seus empregos por serem membros da Ordem.
Mais do que a paranóia do complot judaico-maçónico-comunista, nazistas e colaboracionistas temiam que a capilaridade da Maçonaria se encaixasse na resistência francesa, o que de facto acabou por acontecer, aumentando a sua eficiência. Os maçons estavam habituados ao silêncio e ao sigilo, reconheciam-se discretamente e entre os seus membros havia desde carteiros a industriais. Estas relações improváveis entre estes homens fizeram com que o governo de Vichy estabelecesse uma task force para resolver este puzzle.
É neste contexto que o Propaganda-Abteilung Frankreich (Departamento de Propaganda de França) contratou o director e maçom Jean Mammy para filmar “Les Forces Occultes”, lançado em 1943. O filme era uma mistura dos arquivos maçónicos confiscados, quanto a partes do ritual e paramentos, com a paranóia nazi, quanto à acção política e ao carácter dos seus integrantes. Porém, não é objectivo deste artigo verificar o que é verdadeiro, ou preciso, no filme, e o que não é.
Jean-Marques Rivière, um conhecido panfletário anti-maçónico, anti-comunista e anti-semita, escreveu o roteiro e na estreia do filme declarou que se tratava de “um acto político e revolucionário”. A trama conta a história de um congressista francês (Pierre Avenel) que, como pode ser percebido na sequência inicial do filme, em que faz um discurso na Assembleia Nacional Francesa, é um intelectual orgânico da ideologia nacional-socialista. Assim, insultando todos os partidos e os seus militantes, acusando-os de colocar a França em crise e colocar o país à beira da guerra, o deputado Avenel afirma que esta “estratégia” estava a beneficiar a esquerda e a direita, e com isto constrói para o público uma imagem de integridade acima de qualquer suspeita.
A trama da conspiração desvenda uma clara divisão do bem contra o mal, o honesto combatendo a desonestidade, desde o início do filme. Não obstante, o enredo, neste caso, é um pano de fundo para o verdadeiro chamariz do filme: a primeira re-encenação registrada de um ritual maçónico. Algumas peças de divulgação chegavam a destacar que os rituais utilizados estavam “de acordo com os utilizados pelo Grande Oriente de França”.
Assim que Avenel é iniciado na Maçonaria, começa a receber pedidos sombrios dos seus agora irmãos, em nome da fraternidade. Além disso, o filme refere-se a alguns escândalos famosos da Terceira República, o período entre 1870 e 1940 em França, ligando-os a diferentes maçons pedindo ajuda a Avenel nos seus assuntos privados. Tais escândalos são referidos nas capas de jornais, entre eles o “L’Anti-Maçon”, dirigido por Leo Taxil [18], um dos mais famosos propagandistas contra a Maçonaria.
Consequentemente, Avenel decide deixar a loja ao perceber que a entrada da França na guerra contra a Alemanha (a Segunda Guerra Mundial) foi uma conspiração judaico-maçónica-comunista. Recorrendo a um elemento narrativo que é perceptível nos demais filmes analisados neste artigo, a parte final do filme, que leva à demissão de Avenel, mostra uma discussão aberta sobre política dentro da loja – algo estarrecedor para qualquer ritual maçónico. No entanto, este cenário, ou seja, maçons orquestrando movimentos políticos em loja, é atraente para a narrativa de que a Maçonaria é, principalmente, uma associação obscura. A decisão de Avenel de deixar a loja é recebida com desaprovação e, finalmente, com um ataque que acaba com sua vida, não depois de um discurso comovente sobre os perigos da Maçonaria, para a sua esposa, no seu leito de morte no hospital.
A cena final mostra o triunfo do mal contra o bem. O Orador da loja, que durante todo o filme é retratado como um personagem maligno, é mostrado rindo, com a sua insígnia maçónica e com o Globo em chamas à sua frente. Sugestivamente, a expressão “Fim” (Fin) é apresentada dentro de uma estrela de David, aludindo à conspiração judaica.
É importante perceber, que este filme tem a mesma estrutura narrativa de propaganda definida por F. Chevassu no Jornal Image et Son (Som e Imagem):
- Reacção emocional, derrota,
- Para dizer o óbvio: a França não estava preparada para a guerra,
- Projecção do espectador no personagem: Pierre Avenel, patriota honesto e ardente que refuta aquela guerra vergonhosa,
- O personagem, portanto o espectador, vítima de bodes expiatórios,
- A condenação instintiva destes bodes expiatórios [19].
Obviamente, o uso do filme “Les Forces Occultes” como anti-maçonaria, anti-semita ou anti-comunista, não parou na França de Vichy. O filme, disponível online, conta com centenas de milhares de acessos, e os comentários deixados pelos internautas mostram que a obra de Mammy ainda ecoa como formadora, ou reforço, de uma certa imagem da Maçonaria para a maioria das pessoas.
Ver o Filme

. . . / / / . . .
Independência ou Morte (1972) – Maçonaria como parte do “Milagre Brasileiro” [20]
O filme Independência ou Morte (Independency or Death),, levou para os ecrãs a versão oficial e solidária da proclamação da independência do Brasil, nos anos da seu 150º aniversário. Tornou-se também um ponto de convergência de diversos aspectos históricos, tornando-se uma obra importante para o cinema brasileiro. Dirigido por Carlos Coimbra, experiente director e principal responsável pelo “Cangaço Aesthetics” [21] no cinema brasileiro, foi a última grande produção da Cinedistri, produtora e distribuidora de filmes nacionais, criada em 1949 por Osvaldo Massiani.
Cinedistri foi responsável por vários filmes históricos do cinema brasileiro, como O Pagador de Promessas (1962) e Lampião, o Rei do Cangaço (1964), este último também dirigido por Carlos Coimbra. Tais filmes iniciaram a terceira onda da produtora, ou a sua idade de ouro, quando instalou a sua sede em São Paulo no bairro conhecido como “boca do lixo” [22].
A produção de Independência ou Morte encerrou esta chamada idade de ouro e, apesar do investimento, os resultados estéticos não foram satisfatórios, apesar de terem alcançado recordes de bilheteria no Brasil, com 2.957.083 espectadores [23]. Embora conhecida da maioria dos brasileiros, a trama conta, de forma didáctica, a epopeia de um único personagem D. Pedro de Alcântara, auxiliado pelo seu mentor, José Bonifácio de Andrada e Silva, na árdua jornada da declaração da independência do Brasil. A história desenvolve-se durante o tempo em que D. Pedro era o príncipe regente após o retorno da família real portuguesa a Portugal [24], e uma série de factos acaba levando a desligar do Brasil daquele reino.
A emaranhada história da independência brasileira foi analisada por uma sucessão de pesquisadores que demonstraram a diversidade e pluralidade de forças envolvidas no processo [25]. No entanto, a narrativa oficial do governo militar, pensada a partir de temas escolares recém-nascidos de “educação moral e cívica”, buscava uma história sem disputas políticas, com foco em lutas pessoais, e reverberando a história oficial que caberia como uma luva no máquina de propaganda do governo do General Médici:
[…] não se limitou à repressão. Ela [a máquina de propaganda] distinguia claramente entre um ramo significativo, mas minoritário, da sociedade, oposto ao regime, e o rebanho vivendo a vida quotidiana com alguma esperança naqueles anos de prosperidade económica. A repressão ficou com o primeiro sector, enquanto a propaganda foi encarregue de, pelo menos, neutralizar, o segundo [26].
Assim, também era do interesse do Grande Oriente do Brasil [27] vincular a sua imagem ao governo militar. Esta instituição maçónica vivia um período de intensa luta interna pelo poder, e através da sua ala maioritária tentava expurgar integrantes que manifestavam traços de pluralidade na sua mentalidade política, comuns na ordem política anterior a 1964. Dado o clima político nacional, as opiniões sobre questões de política estavam a se tornar mais uniformes e as pessoas no poder dentro da Maçonaria estavam a usar bem as conveniências daquele momento [28].
O Grande Oriente do Brasil cedeu o templo principal do seu edifício principal, o Palácio do Lavradio, além de paramentos e insígnias (aventais, jóias e faixas), para a filmagem das reuniões maçónicas, atitude incomum para a até então reservada Maçonaria brasileira. No entanto, ser retratados como heróis da independência brasileira seria uma grande oportunidade de figurar com uma boa imagem perante o público e, ao mesmo tempo, reforçar a imagem de colaboração com o regime militar. À luz destes aspectos, um diálogo se torna ilustrativo do papel ambíguo da Maçonaria na história brasileira. O diálogo dá-se entre D. Pedro, príncipe regente, e Frei Habner, um dos seus conselheiros:
Frei Habner: O senhor sabe que reabriram as lojas maçónicas que Dom João VI tinha fechado?
D. Pedro: Todos os cidadãos deste país são livres nas suas acções, Frei Habner.
Frei Habner: Desde que não contornem os princípios do regime, alteza!
D. Pedro: Os maçons são úteis ao regime.
Frei Habner: São perigosos, insidiosos, agem nas sombras…
A partir daí, intercalam-se três sequências onde aparece a Maçonaria. Na primeira, logo após o diálogo acima, há uma re-encenação do que teria sido a sessão extraordinária (especialmente convocada) da Loja Maçónica Comércio e Artes. Verdadeiramente, esta loja maçónica é aquela em que foi iniciado o então príncipe regente, em 2 de Agosto de 1822. Nesta cena, o Orador [29], Joaquim Gonçalves Ledo [30], anima os maçons por se oporem às novas exigências do Parlamento Português. Logo de seguida, aparece José Bonifácio, mentor de Dom Pedro, protestando contra o retorno do príncipe a Portugal, por ordem do Parlamento Metropolitano, e depois outro Maçom apoiando a mesma ideia, ainda dentro da assembleia maçónica.
As reuniões maçónicas, filmadas dentro do Templo Principal, ajudaram esteticamente o filme, dando-lhe também rigor histórico, mas também reforçaram a ligação da Maçonaria brasileira com as comemorações dos 150 anos da independência e do governo militar.
A seguir, há uma sequência de especial importância, um grupo de maçons, liderados por Gonçalves Ledo, surge conspirando para derrubar José Bonifácio da cadeira de Grão-Mestre. Além disso, pretendem oferecer a Dom Pedro o título de “Perpétuo Defensor e Protector do Brasil”, bem como iniciá-lo na Maçonaria para depois o nomear Grão-Mestre. É nesse momento que ocorre, sem uma narrativa explícita, a construção de um papel ambíguo para o grupo maçónico. Entretanto, Dom Pedro surge dentro de uma loja maçónica, sendo investido como Grão-Mestre por Gonçalves Ledo.
Nestas circunstâncias, é significativo que a cena seguinte seja o ápice do filme, aquela em que Dom Pedro declara a independência do Brasil. Esta cena como todos os momentos históricos, como a coroação, são retratados nas telas clássicas pintadas, principalmente, pelo pintor Pedro Américo. Vale dizer que Américo pintou esta tela (Independência ou Morte), décadas depois do ocorrido, sendo apresentada em 1888 – um ano antes da proclamação da república brasileira – seguindo um método de composição clássico e distante do rigor histórico quanto a personagens e vestimentas. Na foto, e consequentemente no filme, Dom Pedro declara a independência nas margens do rio Ipiranga, em uniforme de gala, montado num cavalo branco. Deve ser lembrado que Dom Pedro foi investido como Grão-Mestre do Grande Oriente Brasílico (do Brasil) após a declaração de independência e não antes como o filme sugere [31].
Após a cena do “grito do Ipiranga”, nos 60 minutos restantes do filme, o assunto Maçonaria não volta a aparecer. Mais do que um silêncio, ou um roteiro falho, a lacuna é respaldada pela história. Dom Pedro, após prestar juramento como Grão-Mestre, suspendeu as reuniões do Grande Oriente Brasílico e suas lojas em 1822; a estrutura maçónica só voltaria a viver como Grande Oriente do Brasil em 1831.
Embora possa não ter sido a intenção do director Carlos Coimbra, o filme Independência ou Morte encaixou-se perfeitamente na máquina de propaganda da ditadura militar brasileira. As comemorações dos 150 anos da independência foram um momento crucial do programa político do governo do general Médici, como explica o historiador Daniel Aarão Reis:
Foram os “anos dourados”, de contínuo progresso, de ampliação de horizontes e celebração patriótica, que atingiram o seu ápice entre 1970 e 1972, quando a nação comemorou o tricampeonato mundial de futebol e comemorou o 150º aniversário da sua independência, com mais um título futebolístico internacional [32].
Ver o Filme

Un Borghese Piccolo Piccolo (1977) – A mafia dos medíocres
Interpretar a década de 1970 na Itália é uma tarefa árdua para qualquer historiador. Além da questão de que, se foi um estado de excepção, é inegável a tensão existente naquele país durante o que Pierre Milza chamou de “anos de chumbo” [33]. A acção das brigadas vermelhas confundiu-se com um regime político que criou uma série de “leis especiais” para julgar os crimes políticos, como apontava Giorgio Agamben [34]. Negando o clima de disputa política, ou mesmo de guerra civil, a Itália buscava uma normalidade que acabava por acirrar ainda mais a tensão entre os dois horizontes políticos que se apresentavam na época.
Neste contexto, a Maçonaria italiana também se articulava em duas correntes, basicamente conservadoras e liberais. É importante perceber que a Itália foi o berço da Carbonaria ou “maçonaria florestal”, e que diferente de sua co-irmã, a Maçonaria, foi construída com propósitos políticos explícitos no século XVIII. Não obstante, na década de 1970, a Maçonaria regular, na sua maioria, rebaixou-se ao conservadorismo político e, como se sabe, uma minoria de extrema direita produziu escândalos que estourariam na década seguinte, como o da loja maçónica Propaganda Due , a famosa P2 [35].
É neste contexto que o realizador Mario Monicelli adapta a obra de Vicenzo Cerami, Un Borghese Piccolo Piccolo, fazendo dela um cáustico retrato da pequena burguesia italiana na sua expressão máxima nos anos setenta: os funcionários públicos. O filme conta a história de Giovanni Vivaldi [36], um funcionário público subserviente de um Instituto Italiano de Previdência Social. Vivaldi tem uma adoração pelo seu chefe, Dr. Spazioni [37], e nutre igual estima pelo seu único filho, um menino comum que se consegue formar, com notas razoáveis, como contabilista. De forma tragicómica, os dois lados do comportamento burguês de Giovani Vivaldi começam a se mostrar, de um lado a mesquinhez, por meio do seu hábito de se curvar na presença de qualquer superior, de outro, um lado mais sombrio, instável, insultando quem se coloca à sua frente no trânsito, por exemplo.
Um dos objectivos de vida de Vivaldi é colocar seu logo, recém-formado contabilista, na mesma Previdência em que trabalha. Porém, para isso, o menino precisa de ser aprovado no temido concurso público. Vivaldi busca uma forma de colocar o filho no instituto sem a necessidade de ser aprovado em concurso público, e para isso pede ao seu querido patrão, Dr. Spazioni, que lhe diz que não há forma, que os tempos mudaram, e que agora todos devem passar pela selecção pública. Diante da insistência de Vivaldi, o Dr. Spazioni avisa que existe uma forma de amenizar as coisas, e neste ponto pergunta-lhe “O que sabe sobre a Maçonaria?”
A partir daqui, acontecem uma série de acontecimentos hilariantes, em que Giovanni Vivaldi se instrui, por meio de livrinhos, sobre a Maçonaria. Na devida altura, ele vai para a sua iniciação, mas antes testemunhamos o conflito presente na sua mente, provando que mesmo depois dos livrinhos, a Maçonaria ainda era um caminho escorregadio dentro dos seus valores (e da sociedade tradicional). Antes de sair de casa, rumo à cerimónia, Vivaldi vai à casa de banho, senta-se na sanita e conversa com Deus, pedindo perdão, e explicando que estava a fazer aquilo “só por causa do filho”.
Após a sua divertida iniciação, com alguns momentos de “Bobby Bumps”, Giovanni Vivaldi é recebido pelo seu “mentor”, Dr. Spazioni, que profere um memorável discurso de boas-vindas em que, de forma metalinguística, há a própria negação da tão falada igualdade maçónica:
Dr. Spazioni: Para a Maçonaria, todo o sentimento fraco é covardia. Todo o livre arbítrio é um crime, lembre-se disto, Irmão Aprendiz Maçom. O símbolo do compasso é claro, desenha um círculo. Você agora é o menor círculo. Mas até você se tornará grande, pouco a pouco. Isto não significa que você é inferior, não! Você será sempre um círculo desenhado pelo compasso. Assim, você é um Irmão, um como nós. Neste sentido, a Maçonaria é igualitária. Os grandes têm grandes direitos, você também os tem, mas em menor escala. Mas esses direitos são seus! Está claro? Resumindo, Irmão, você é bem-vindo entre nós.
Depois, o Dr. Spazioni dá a Vivaldi a chave de respostas para o teste que o seu filho fará. Mario, filho de Vivaldi, decora as respostas com extrema dificuldade, dando uma ilustração da sua obtusidade. No entanto, as suas vidas de pequeno-burgueses logo seriam atravessadas, literal e figurativamente, pelo conturbado cenário político e social italiano ocorrido do final dos anos sessenta até ao início dos anos oitenta, período conhecido como anni di piombo (anos de chumbo). A caminho do teste, eles cruzam-se com assaltantes de banco, uma bala perdida atinge Mario na cabeça, que morre instantaneamente. A partir daí, Giovanni Vivaldi deixa de ser retratado como um burguês calado para dar vazão à sua agressividade.
Este grande revés que nos leva ao clímax, retrata a Maçonaria como mais um paliativo diante de uma sociedade desigual, algo que Louis Althusser chamaria de “aparelho ideológico de estados”. Apesar das suas intenções quando iniciado, Vivaldi não alcança nenhum outro privilégio por ser Maçom. Emblemática é a cena em que ele pede a um irmão da sua loja maçónica, responsável pelo cemitério, que apresse o enterro do seu filho em cova própria. Enquanto isso, o cadáver do seu filho espera entre muitos outros, numa espécie de depósito que o director Monicelli retrata em grande semelhança com o purgatório de Dante.
O Maçom que administra a fila informa que não há nada que ele possa fazer, pois há pessoas “mais importantes” para empurrar na lista de espera, cardeais, deputados, ministros, etc. Diante desta notícia, Vivaldi e o outro Maçom fazem o que é supostamente um sinal maçónico um para o outro com um ar de desespero silencioso. Assim, ficou demonstrado que a fraternidade maçónica talvez seja inatingível num sistema que sobrepõe privilégios.
O filme de Monicelli mostra talvez a face mais interessante, e talvez realista, da Maçonaria na década de 1970, e talvez adequada para muitas Maçonarias hoje. Por outras palavras, o filme retrata a Maçonaria como uma estrutura capaz de amenizar a classe média para que ela mantenha o status quo, utilizando estranhamente uma instituição que no passado italiano lutou contra a opressão e a desigualdade. Em última análise, Giovanni Vivaldi é o arquétipo do burguês, oferecendo uma visão cómica do trágico sonho de fraternidade e pertencimento diante de uma sociedade capitalista no século XX.
Conclusão
Mais do que reflectir a presença da Maçonaria na sociedade, estas representações da Ordem no cinema construíram, e constroem, as percepções que o público, e mesmo os maçons, têm da Maçonaria. Historiadores, maçons e aficionados têm listas e listas de filmes em que a Maçonaria é o tema, a história por trás ou filmes em que a fraternidade não é mais do que mencionada.
O objectivo aqui foi analisar brevemente três filmes em que a Maçonaria estava a servir a algum tipo de propósito em estados de excepção. No primeiro, Les Forces Occultes, a Maçonaria é retratada como um elemento da conspiração judaico-comunista; o filme passa a ideia de uma fraternidade travessa que recruta pessoas para as transformar em marionetes de um plano maior. Combinava perfeitamente com a máquina de propaganda nazi e a sua narrativa de um mundo dividido entre o bem e o mal.
O segundo, Independência ou Morte, foi feito sob medida para o 150º aniversário da independência brasileira ocorrido durante o período mais violento da ditadura militar brasileira que ocorreu entre 1964 e 1985. O filme reflecte a atitude duvidosa do regime em relação à Maçonaria. Ao mesmo tempo que os maçons se aproximavam do regime, dando-lhe apoio através de manifestos de endosso aos militares e condecorações às suas principais figuras [38], o regime acompanhava de perto as actividades maçónicas com apreensão como nos mostram os arquivos da repressão.
Un Borghese piccolo piccolo, por sua vez, representa o inverso dos anteriores. Em vez de servir a algum propósito do regime estabelecido, promove os seus próprios críticos. O personagem de Giovanni Vivaldi encarnou a sociedade italiana de forma cómica e expõe as incoerências da Maçonaria com a crueza da crítica social. Vale ressaltar que Mario Monicelli não era um novato; director experiente e roteirista, ele conseguiu retratar a Maçonaria como “a máfia dos medíocres” [39], mesmo antes deste epíteto surgir na Inglaterra durante os anos oitenta.
No geral, pode-se afirmar que mais do que uma ameaça ou guardiães de qualquer estrutura política, os maçons são úteis aos regimes, principalmente aos estados de excepção; seja apoiando-os, seja constituindo um bom bode expiatório, ou mesmo representando um perigo imaginário para o que se considera sagrado. A magia do cinema ajudou, e ainda ajuda, a potencializar estes sentimentos ao retratar a Maçonaria no traje mais conveniente para a ocasião, intencionalmente com um propósito claro ou involuntariamente, reverberando noções preconcebidas.
No entanto, é inegável que o imaginário popularizado relacionado à Maçonaria é derivado principalmente de filmes e séries, pelo menos para o intervalo de geração entre baby boomers e millennials. Mais do que mera curiosidade, estas produções moldaram a imagem pública da Maçonaria de tal forma que essa imagem produzida no ecrã ao longo do tempo tornou-se mais verdadeira do que qualquer tentativa maçónica de “sair do armário”. Uma destas tentativas, o documentário “Inside the Freemasons” alcançou um público mais amplo ao mostrar os bastidores da Maçonaria inglesa e a sua existência prosaica. A questão que se coloca aos futuros historiadores, que terão o privilégio da retrospectiva, é avaliar se a – por vezes tediosa – realidade, abre caminho sobre as coloridas e convenientes teorias da conspiração.
Felipe Corte Real de Camargo – Universidade de Bristol, Reino Unido
Notas
[1] Embora a Maçonaria Moderna, ou o sistema de Grande Loja, tenha o seu início bastante datado e localizado, as variações e diversidade dos rituais maçónicos são evidentes. A sua estrutura apresenta padrões, conforme analisado por Snoek (2006, 87-108), mas a sua difusão provocou inúmeras variações, portanto inadequadas para estabelecer um cânone.
[2] David Stevenson, The Origins of Freemasonry Scotland’s Century, 1590-1710 (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
[3] Refiro-me aqui ao ofício real de pedreiro.
[4] George Rudé, Hanoverian London 1714-1808 (London: Secker & Warburg, 1971).
[5] Eric J. Hobsbawm, Mundos do Trabalho (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000).
[6] Apesar do ressurgimento contemporâneo de visões do sincretismo como um “rebaixamento”, entendo o fenómeno sob uma luz historicamente natural, como na entrada de Diderot na Enciclopédie onde ele define o sincretismo como um processo de concordância de fontes eclécticas, com todas as suas “ inconvenientes”.
[7] Andrew Prescott and Susan Sommers, “Searching for the apple tree: revisiting the earliest years of organised English freemasonry”. In Reflections on Three Hundred Years of Freemasonry: Papers from the QC Tercentenary Conference editado por John Wade (London: Lewis Masonic, 2017).
[8] James W. Daniel, “UGLE External Relations 1950-2000: policy and practice”, Ars Quatuor Coronatorum 117 (2005): 147.
[9] João Ivo Girardi. Do meio dia à meia noite: vade-mécum maçónico (Blumenau: Nova letra Gráfica e Editora, 2006), 30.
[10] Kristian Moen, “Imagination and Natural Movement: The Bray Studios and the “Invention” of Animated Film. In Film History 27, no. 4 (2015), 135.
[11] René Gardies org., Compreender o Cinema e as Imagens (Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2007).
[12] Conceito desenvolvido por Carl Schmitt e ampliado pelo livro homónimo de Giorgio Agamben. Para a teoria jurídica de Schmitt, o estado de excepção é uma capacidade dentro da soberania de suspender o estado de direito em nome de um suposto bem maior ou ordem pública. Agamben refere-se a ele como um paradigma de governo, uma estratégia para governar e superar os inimigos.
[13] Serge Moscovici. Representações Sociais: Investigações em Psicologia Social (Petrópolis: Vozes, 2009), 34.
[14] Moscovici, “Representações Sociais”, 36.
[15] A propos de Forces Occultes. Director: René Le Moal. Production: Les éditions Véga. 16 min e 26 seg. Disponível em http://www.dailymotion.com/video/x81q5t forces-occultes-le-complot-judeo-ma news
[16] O director e roteirista Jean-Patrick Lebel usou o termo câmara que engloba todo o processo desde a filmagem até à edição final. Pela sua simplicidade conceitual, tomarei a mesma posição.
[17] Corpos maçónicos, ou obediências, são entidades administrativas que agrupam três ou mais lojas. Cada loja maçónica é afiliada a um corpo, ou obediência.
[18] Um dos pseudónimos de Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand Pagès (1854-1907), jornalista e escritor, famoso por seus escritos anti-eclesiásticos e anti-maçónicos.
[19] Chevassu, F. “Forces Occultes”. Image et Son: La Revue do Cinema. Paris: Union Française des Oeuvres Laïques d’Éducation par l’Image et par le Son, numero 188 (Novembro, 1965), 36.
[20] O “Milagre Brasileiro” é o termo usado para se referir a um período de notável crescimento económico, repressão e tortura excepcionais e de patriotismo histriónico incentivado pelo governo militar, de 1969 a 1973.
[21] A “Estética do Cangaço” faz parte de um grande movimento cinematográfico brasileiro chamado “Cinema Novo”, ocorrido principalmente na década de 1960. O cangaço era uma forma de “banditismo social” e tinha características estéticas e políticas muito particulares, que levaram a ser recuperado por artistas e intelectuais brasileiros como forma de redenção da parcela marginalizada da história brasileira.
[22] Fernão Ramos; Luís Felipe Miranda. Enciclopédia do Cinema Brasileiro (São Paulo: Editora do Senac, 2004), 132-133.
[23] Antônio Leão da Silva Neto. Dicionário de Filmes Brasileiros (São Paulo: Ed. do Autor, 2002).
[24] Fugindo da Guerra Peninsular, a família real portuguesa transportou a Corte para o Brasil em 1808, voltando para Portugal em 1821 por pressão da Revolução Liberal Portuguesa.
[25] Charles Ralph Boxer, A idade de ouro do Brasil: dores de crescimento de uma sociedade colonial (São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1963); Jorge Caldeira org., José Bonifácio de Andrada e Silva (Colecção “Formadores do Brasil” (São Paulo: Editora 34, 2002); Maria Odília Leite da Silva Dias, A interiorização da metrópole e outros estudos (São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2005); Raymundo Faoro intr. e org., O debate político no processo da Independência (Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1973); Faoro intr. e org., O debate político no processo da Independência (Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1973); João Luís Ribeiro Fragoso, Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830) (Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1992); Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, Corcundas e constitucionais: a cultura política da Independência (1820-1822) (Rio de Janeiro: Revan, Faperj, 2003).
[26] Boris Fausto, História do Brasil (São Paulo: EDUSP, 2003), 484.
[27] O Grande Oriente do Brasil foi, e ainda é, a maior organização maçónica do Brasil. Este corpo maçónico também afirma ser a continuação do Grande Oriente Brasílico que foi encerrado por Dom Pedro ainda em 1822. No entanto, nenhum destes nomes é mencionado no filme.
[28] Octacílio Schüler Sobrinho, Uma Luz na História: o sentido e a formação da COMAB (Florianópolis: Editora O Prumo, 1998); José Castellani, Os maçons na independência do Brasil (Londrina: Editora maçónica “A Trolha” Ltda. 1993).
[29] Um dos oficiais maçónicos da loja.
[30] É importante observar que Joaquim Gonçalves Ledo era o chefe de um grupo que desejava uma abordagem mais constitucional para uma futura monarquia brasileira. Este grupo, iniciou Dom Pedro na Maçonaria na esperança de influenciar o príncipe regente, acabou sendo, mais tarde, perseguido pelo então Imperador do Brasil.
[31] Pedro de Alcântara, sob o nome simbólico de Guatimozin, prestou juramento de Grão-Mestre em 4 de Outubro de 1822 (José Castellani. “Os maçons na independência”, 81).
[32] Daniel Aarão Reis, “A vida Política”. In Modernização, Ditadura e Democracia: 1964- 2010. Coordenado por Daniel Aarão Reis (Rio de Janeiro: Fundación Mapfre e Editora Objectiva, 2014), 90.
[33] Pierre Milza, Histoire de l’Italie : Des origines à nos jours (Paris: Fayard, 2005), 995.
[34] Giorgo Agamben, “Do bom uso da memória e do esquecimento”. In Exílio (seguido de valor e afecto) por Toni Negri (São Paulo, Editora Iluminuras Ltda, 2001).
[35] A loja maçónica Propaganda Due, devido às suas actividades ilícitas, foi expulsa do Grande Oriente de Itália em 1976. No entanto, a loja continuou, ilegalmente, as suas actividades, infiltrando os seus membros nos três ramos do poder, bem como no Vaticano e na Máfia. Os seus golpes foram descobertos por uma Comissão Parlamentar de Inquérito sendo inclusive caracterizado como “um estado dentro do estado”.
[36] Interpretado por Alberto Sordi.
[37] Interpretado por Romolo Valli.
[38] Octacílio Schüler Sobrinho, Uma Luz na História: o sentido e a formação da COMAB (Florianópolis: Editora O Prumo, 1998), 483-510.
[39] Expressão usada na série de TV britânica “Our Friends in the North” e que logo se tornou uma forma de se referir à Maçonaria em Inglaterra durante a década de 1980.
Candidaturas
Para obter mais informações sobre candidaturas, por favor clique no botão "QUERO CANDIDATAR-ME".
Links